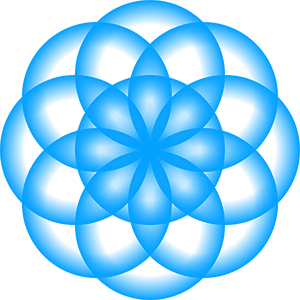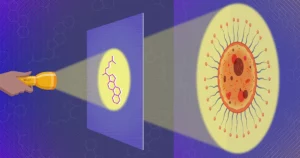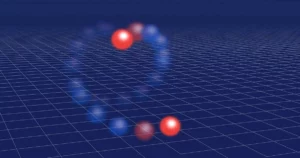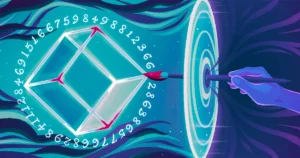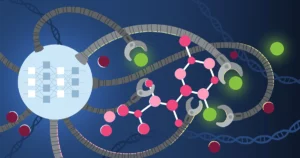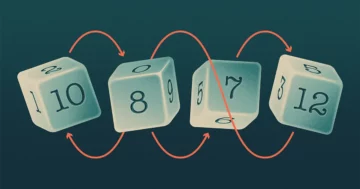A declaração de missão na página inicial do laboratório da Universidade de Stanford de Sergio Paşca é ao mesmo tempo simples e espetacularmente ambicioso. Seu grupo “procura entender as regras que governam as etapas moleculares e celulares subjacentes à montagem do sistema nervoso humano e os mecanismos moleculares que levam às doenças neurológicas e psiquiátricas”.
A rota escolhida por Paşca para esse objetivo usa uma forma avançada de tecnologia de células-tronco. Primeiro, ele reprograma geneticamente células da pele de pessoas autistas e pacientes com distúrbios como esquizofrenia para se tornarem células-tronco versáteis; então ele induz as células a se estabelecerem em um estado mais definido como tecido neural em uma placa de laboratório. Ao observar como essas células funcionam ou funcionam mal, Paşca, professor de psiquiatria e ciências comportamentais em Stanford e diretor do Instituto de Neurociências Wu Tsai, obtém insights sobre o que diferencia os cérebros de pessoas com condições neurológicas.
Em seu esforço para tornar esses sistemas modelo mais realistas, ele fez inovações científicas aparentemente fantásticas. Em seu laboratório em Palo Alto, Paşca criou tecidos esféricos em miniatura, ou organoides, que se assemelham a várias regiões do cérebro humano. Ele e seus colegas ligaram organoides do cérebro, medula espinhal e tecido muscular em “assembloides” que podem se contorcer sob comando.
E novo trabalho Acaba de ser anunciado hoje, a equipe de Paşca mostrou que organoides humanos introduzidos no cérebro em desenvolvimento de um rato jovem podem se espalhar espontaneamente e se integrar ao circuito neural do animal - um resultado que aponta o caminho para modelos de pesquisa do cérebro humano que são cada vez mais realista, mas prático e ético para trabalhar.
Quando a Fundação Vilcek de Nova York concedeu a Paşca seu Prêmio de Promessa Criativa em Ciências Biomédicas de 2018, eles o fizeram porque seu “esforço levou a um repositório de culturas cerebrais derivadas de pacientes que estão entre os modelos mais realistas de desenvolvimento cerebral disponíveis para pesquisadores hoje .”
Segundo seu orientador de pós-doutorado, Ricardo Dolmetsch, o presidente de pesquisa e desenvolvimento da empresa de terapia genética uniQure: “O trabalho de Sergiu levanta a possibilidade de que um dia possamos transplantar células cerebrais ausentes em pessoas com doenças ou desenvolver modelos laboratoriais de doenças neurológicas ou psiquiátricas que podemos usar para desenvolver medicamentos”.
Conversamos com Paşca no verão passado via Zoom e telefone. As entrevistas foram condensadas e editadas para maior clareza.
Você sempre quis fazer pesquisa científica?
Desde cedo. Sim.
Cresci na Romênia, em uma pequena cidade da Transilvânia. Quando criança, construí um laboratório no porão da casa da minha família. Eu tentaria melhorar o crescimento das plantas adicionando diferentes produtos químicos ao solo e medindo seu efeito. Uma vez, adicionei uma molécula à base de cobre. Isso fez com que uma das minhas plantas aumentasse em 20%. Isso me fisgou na pesquisa.
E hoje você cultiva células nervosas em um laboratório. Como isso aconteceu?
[Risos] É uma longa história. Frequentei a escola nos anos após a derrubada da ditadura de Ceauşescu. Naquela época, a Romênia sofria os efeitos de longo prazo da ditadura – isolamento, subdesenvolvimento. No final do ensino médio, ganhei um prêmio em um concurso nacional de química. O prêmio veio com a admissão em qualquer universidade romena. Eu escolhi a Universidade de Medicina Iuliu Haţieganu em Cluj-Napoca. A ideia era tornar-se médico-pesquisador. Pensei então, e ainda sinto, que o mundo precisa de mais deles.
Infelizmente, uma vez na faculdade de medicina, descobri que havia poucos recursos: sem bolsas, sem reagentes para o trabalho de laboratório. Mas eu tinha uma professora muito dedicada, e ela usou 200 euros de seu próprio dinheiro – uma fortuna na época – para encomendar um pequeno kit de reagentes da Alemanha. Em seguida, planejamos por um ano como melhor usá-lo.
E foi assim que o estudo de distúrbios cerebrais surgiu para mim. Eu estava pensando em usar aquele kit de reagentes para testar metabólitos no sangue de pacientes com doenças cardiovasculares. Mas para aprender qualquer coisa, eu precisaria testar centenas, talvez milhares de pacientes. Tínhamos apenas reagentes suficientes para 50 reações!
Um dia, durante uma aula de estatística, me ocorreu: a única maneira de fazer um estudo com uma pequena coorte de pacientes seria observar uma doença rara. Eu pensei: autismo.
Autismo? Não é tão raro – um em cada 50 tem alguma forma disso.
Não sabíamos disso há 20 anos.
Minha ideia era ver se conseguíamos encontrar assinaturas da condição no sangue de crianças com autismo. Para fazer o estudo, precisei convencer os pais a doar pequenas quantidades do sangue de seus filhos. Conversar com eles era de cortar o coração. Abriu meus olhos para o imenso sofrimento que as famílias passaram. Os pais se perguntaram: “O que causou isso?”
Tudo o que pude dizer foi: “Nada se sabe”.
Para poder oferecer melhores respostas, me inscrevi em um curso em Bucareste oferecido pela International Brain Research Organization, o IBRO. Eles eram neurocientistas americanos e britânicos tentando levar a ciência do cérebro avançada para países isolados. A clareza de suas apresentações e a beleza das descobertas neurocientíficas que descreveram me excitaram imensamente.
Nas aulas, conheci Jack McMahan, um dos fundadores do programa de neurobiologia em Stanford. Mantivemos contato, e mais tarde ele me ajudou a vir para a Califórnia.
O que aconteceu com o seu estudo de metabólitos?
Descobrimos que alguns pacientes com autismo tinham anormalidades em seu metabolismo de um carbono. Essa via, que é dependente de folato e vitaminas do complexo B, foi levemente perturbada e provavelmente está relacionada a uma combinação de fatores genéticos e nutricionais.
Quando terminei a faculdade de medicina, já havia publicado vários artigos sobre autismo. Jack McMahan os leu e disse: “Por que você não vem para Stanford? Tenho um colega interessado em mover seu laboratório nessa direção.” Esse foi Ricardo Dolmetsch, que alguns anos depois se tornou o chefe global de neurociência dos Institutos de Pesquisa Biomédica da Novartis.
Demorou um pouco para conseguir financiamento, mas acabei recebendo uma bolsa do IBRO e vim para Palo Alto.
Qual foi sua tarefa no laboratório Dolmetsch?
Para criar uma nova abordagem para aprender sobre o cérebro humano.
Alguns anos antes, Shinya Yamanaka, da Universidade da Califórnia, San Francisco e da Universidade de Kyoto, havia descoberto como pegar células da pele de camundongos e reprogramá-las para se transformarem novamente em células-tronco pluripotentes induzidas – células iPS. As células-tronco podem ser induzidas a todos os tipos de células diferentes, incluindo neurônios, os blocos de construção do sistema nervoso. Yamanaka receberia o Prêmio Nobel por isso.
No laboratório de Ricardo, planejei encontrar maneiras de transformar células iPS humanas em neurônios. A ideia era obter células da pele de crianças com autismo, transformá-las novamente em células-tronco e depois orientá-las a se tornarem neurônios em uma placa de Petri. Se tivéssemos sucesso, esperávamos ultrapassar as barreiras que nos impediram de compreender completamente como o sistema nervoso humano se desenvolve. Esta seria uma forma de compreender com maior clareza a base biológica de condições neuropsiquiátricas como autismo, epilepsia e esquizofrenia.
Quais são essas barreiras?
O principal problema é a inacessibilidade insuportável do cérebro humano.
Quando algo dá errado no baço ou no fígado, os médicos fazem uma biópsia e analisam o tecido. Essa prática revolucionou a medicina. Os pesquisadores conseguiram pegar as células dos pacientes, colocá-las em um prato, identificar os mecanismos de mau funcionamento e aplicar diferentes compostos para restaurá-los. Foi assim que descobriram novas drogas.
Mas, exceto em raras situações, não perfuramos o crânio de uma pessoa viva para estudar diretamente o tecido cerebral humano. Além dos riscos médicos, existem profundos tabus culturais. Tendemos a associar o cérebro a “nós”, a quem somos. Ao tocar o cérebro diretamente, esses métodos são vistos como uma interferência no “eu”.
Pensando em minhas rotações clínicas na faculdade de medicina, quase senti inveja de meus colegas na ala de oncologia. A revolução da biologia molecular, combinada com a acessibilidade dos tecidos cancerosos nos quais eles estavam interessados, significava que eles tinham novos tratamentos em andamento. Havia coisas incríveis acontecendo com leucemia, por exemplo.
Com autismo, não tínhamos nada. Não conseguimos identificar os mecanismos que causaram os problemas porque não pudemos estudar diretamente o tecido cerebral. E mesmo que pudéssemos, não saberíamos o que procurar.
Você não poderia estudar o tecido cerebral humano obtido de autópsias?
O cérebro post-mortem diz pouco sobre a atividade elétrica dos neurônios vivos. Você precisa medir essa atividade porque é isso que os neurônios do cérebro fazem: eles disparam sinais elétricos.
Quanto aos modelos animais, eles apresentam limitações quando se trata de estudos de transtornos psiquiátricos. O cérebro humano é mais complicado que o de camundongos ou mesmo de macacos. Milhões de anos de evolução nos separam desses animais. Vimos inúmeros exemplos de drogas que tiveram grande sucesso em roedores e depois falharam em testes clínicos em humanos.
Achei que podíamos fazer as coisas avançarem fazendo nós mesmos um tecido cerebral humano vivo.
Sua ideia deve ter sido controversa.
Oh sim. Teve gente que achou que não ia dar certo. Eles achavam que ao transformar as células da pele, você perderia a fisiopatologia da doença, e então não poderíamos descobrir nada de novo.
No entanto, em oito meses, tínhamos neurônios humanos funcionando a partir de células-tronco que começaram como a pele de pacientes com uma forma genética de autismo. Olhando para eles sob o microscópio, você pode vê-los provocando sinais de cálcio. Estávamos chegando a algum lugar.
Como se faz neurônios?
A reprogramação celular nos trouxe células-tronco das células da pele. Em seguida, persuadimos as células-tronco a se diferenciarem em outros tipos de células.
As células-tronco adoram se diferenciar. Eles precisam se transformar em outros tipos de células. E eles realmente têm uma alta probabilidade de se tornarem neurônios quase por padrão. Você não precisa fazer muito para criar neurônios, embora guiá-los ajude. O que você faz é enrijecer o meio em que as células-tronco são mantidas com moléculas que promovem a transformação. Às vezes você tira algumas moléculas também.
Logo tínhamos milhões de belos neurônios. A má notícia foi que nossos neurônios ficaram presos no fundo de uma placa de Petri em uma única camada de células, onde depois de semanas em cultura, eles cederam. Se fôssemos descobrir o que acontece com o cérebro humano à medida que se desenvolve ao longo de meses e meses, precisávamos de neurônios mais duradouros.
Eu tive uma ideia. Comprei um conjunto de pratos de laboratório de plástico revestidos com uma substância antiaderente e cultivamos as células neles. Surpreendentemente, a jogada funcionou! As células não conseguiram grudar no prato. Em vez disso, eles flutuavam no meio mantendo-os e agregados em pequenas bolas do tamanho de ervilhas.
A princípio, chamamos esses aglomerados flutuantes de células esferoides. Mais tarde, eles ficaram conhecidos como organoides – algo que se assemelhava a um órgão específico, mas não era um.
Como as células nessas bolas eram diferentes de seus neurônios solitários?
Eles estavam crescendo no espaço tridimensional. Eles se moviam e interagiam uns com os outros. É importante ressaltar que eles podem ser mantidos em um prato por longos períodos de tempo.
Nas circunstâncias certas, poderíamos manter os organoides por 900 dias. E isso nos permitiu observar coisas novas. Por exemplo, por volta dos nove ou 10 meses, as células se tornaram mais parecidas com neurônios pós-natais do que com neurônios pré-natais. Eles pareciam ter uma noção da passagem do tempo e o que isso deveria significar para seu desenvolvimento.
Quão úteis foram os organoides para sua pesquisa?
Deixe-me falar sobre um experimento que realizamos com eles.
Existe uma doença genética chamada síndrome de deleção 22q11.2 que envolve a perda de uma parte do 22º cromossomo. Os pacientes têm um aumento de 30 vezes no risco de esquizofrenia. Eles também podem desenvolver autismo ou outros distúrbios neuropsiquiátricos. Recrutamos 15 pacientes e 15 controles saudáveis e começamos a produzir neurônios semelhantes ao córtex cerebral a partir da pele que eles doaram. Vimos que os neurônios dos pacientes tinham propriedades elétricas anormais. Eles não conseguiam se comunicar corretamente.
Agora, a esquizofrenia é frequentemente tratada com drogas antipsicóticas. Colocamos algumas dessas drogas em um prato com organoides corticais feitos de células de nossos pacientes e vimos que as drogas antipsicóticas reverteram o problema com as propriedades elétricas dos neurônios.
Isso significava que agora tínhamos uma maneira de testar essas drogas em um prato.
Você falou sobre organoides. Mas o que são assembloides?
Os assembloides são um novo sistema modelo que criamos de seis a sete anos atrás. Eles são sistemas de cultura de células tridimensionais construídos a partir de pelo menos dois tipos diferentes de organoides, ou combinando organoides com alguns outros tipos de células especializadas. Ao colocá-los juntos, podemos ver novas propriedades celulares decorrentes de suas interações próximas.
Você pode juntar dois organoides que se assemelham a diferentes regiões do cérebro e ver como os neurônios se projetam um para o outro e depois se conectam para formar circuitos. Ou você pode combinar organoides com células imunes e observar as interações neuroimunes na doença.
Por exemplo, há um tipo raro de autismo associado a um distúrbio genético chamado síndrome de Timothy. É causada por uma mutação de uma única letra em um gene que codifica um canal de cálcio. Ele permite que muito cálcio entre nas células quando elas recebem sinais elétricos. Isso interfere na transmissão de sinais químicos dentro dos neurônios e outras células excitáveis.
Pegamos células da pele de pacientes com síndrome de Timothy, fizemos assembloides e depois observamos o que acontecia dentro delas. Pudemos ver que os neurônios cultivados a partir das células dos pacientes se moviam com mais frequência, mas se moviam por distâncias mais curtas do que os neurônios do grupo controle saudável. As células dos pacientes acabaram ficando para trás em sua organização.
Deve ter sido emocionante testemunhar isso em tempo real.
Você podia ver! Você poderia literalmente ver com seus próprios olhos!
Tínhamos esse corante que coloria o cálcio. No momento em que o cálcio entrava nas células, você podia ver as cores subindo e descendo, medindo quanto cálcio entrava na célula. Havia mais nas celas dos pacientes.
Passamos seis anos descobrindo precisamente como esse canal de cálcio causa defeitos no movimento desses tipos específicos de neurônios. O canal mutado em pacientes afeta duas vias moleculares diferentes nos neurônios. É importante ressaltar que descobrimos que você precisa de dois medicamentos diferentes para restaurar a atividade. Estamos pensando que agora temos a base para o que pode nos levar a um tratamento no futuro.
Nós nunca teríamos sido capazes de aprender isso sem os assembloides porque você precisa que as células interajam em três dimensões para capturá-lo.
Em seu novo artigo, você anuncia que seu laboratório criou um rato no qual os neurônios humanos cobrem um terço do córtex do animal em um hemisfério e se integram profundamente ao cérebro. Por que criar este modelo?
Por mais de uma década, temos feito as culturas em um prato que recapitula muitos aspectos do sistema nervoso humano. Mas há limitações para essas culturas: os neurônios que criamos não crescem tanto. Não há saídas comportamentais como haveria em um cérebro humano real. E eles não recebem entradas sensoriais que moldariam seu desenvolvimento – o córtex precisa receber sinais. Estamos tentando fornecer alguma entrada externa significativa para esses neurônios humanos.
Então, o próximo passo foi desenvolver neurônios humanos dentro do cérebro de um rato. Pegamos os organoides e os transplantamos para o córtex cerebral de um filhote de rato. O organoide tornou-se vascularizado pelo rato e eventualmente cresceu para cobrir um terço de seu hemisfério cortical cerebral.
Achei que você não fosse muito fã de modelos animais para pesquisa do cérebro humano. O que aconteceu?
Acho que os modelos animais e os modelos celulares humanos são complementares. Nesse caso, o transplante em animais permite integrar neurônios humanos em circuitos para entender essas doenças e testar medicamentos. É também outra maneira de entender como os neurônios humanos estão processando informações dentro de circuitos vivos.
Assim, esses neurônios humanos dos organoides tiveram a chance de crescer dentro de cérebros de ratos e conseguiram obter entradas e saídas do animal. Como eles se comparam aos neurônios que cresceram apenas dentro dos organoides? E como eles se comparam aos neurônios que crescem em nossos próprios cérebros?
Os neurônios humanos transplantados são cerca de seis vezes maiores do que os neurônios humanos de desenvolvimento comparável mantidos em um prato. Eles também são mais maduros eletrofisiologicamente e formam mais sinapses e estão muito mais próximos dos neurônios no cérebro humano pós-natal.
Você vê algum tipo de diferença comportamental nesses ratos que adquiriram tantos neurônios humanos?
Não. Não há diferenças nas tarefas cognitivas e motoras em que testamos os ratos. Também verificamos e eles não sofrem convulsões. Os ratos podem, no entanto, ser treinados para associar a estimulação de neurônios humanos com a entrega de uma recompensa. Isso oferece oportunidades sem precedentes para estudar distúrbios do cérebro humano.
Em que ponto seus assembloides e organoides devem ter algum tipo de direito legal?
Acho que para culturas in vitro, são apenas aglomerados de células. Nós não os consideramos cérebros. Fica mais sutil quando se trata de transplante em animais.
Como os bioeticistas se sentem sobre seus experimentos?
Trabalhamos em estreita colaboração com eles. Ao longo de todo esse caminho, estive ativamente envolvido em discussões com especialistas em ética em Stanford e além. Todos os experimentos que fazemos são monitorados de perto e discutidos com especialistas em ética. Não fazemos os experimentos isoladamente. Os experimentos são discutidos antes de serem realizados e, certamente, enquanto estão sendo executados. Vamos falar sobre as implicações, os prós e contras.
Você já pensou sobre o Frankenstein história?
Eu penso muito sobre isso. Mas acho que a história não é tão relevante para a ciência de hoje. No mundo de hoje, podem ser desenvolvidas tecnologias que sejam éticas. Muito tem a ver com o motivo do pesquisador. Meu objetivo de longo prazo é encontrar um tratamento e talvez uma cura para esses distúrbios do neurodesenvolvimento. Essa tem sido a minha Estrela do Norte.
Alguns anos atrás, antes de ela receber o Prêmio Nobel por CRISPR, perguntei a Jennifer Doudna se ela estava preocupada com o potencial uso indevido dessa tecnologia de edição de genes. Ela respondeu que estava preocupada com “o desejo em algumas áreas de se apressar para mudar os embriões humanos”. Pouco tempo depois, um pesquisador ambicioso em Shenzhen, China, anunciou que havia usado o CRISPR para revisar o código genético de dois bebês humanos. Você já se preocupou em pegar o jornal e descobrir que um cientista em algum lugar usou seu trabalho para produzir prematuramente partes de um cérebro humano?
Não. Uma das coisas que distingue o trabalho organoide do CRISPR são os recursos necessários para os experimentos. Fazer uma edição genética com CRISPR requer apenas algum treinamento e poucos recursos. É possível fazer na sua cozinha! O que fazemos requer muito mais tempo e dinheiro. Manter as células vivas por 900 dias é bastante caro e requer treinamento e instalações especializadas. Esse fato por si só nos dá um pouco de espaço para processar nossas descobertas e suas implicações.
Existem poucos lugares com a infraestrutura e conhecimento necessários para fazer isso. Estamos tentando replicar o desenvolvimento do cérebro humano, o que leva muito tempo. Descobrir sua engenharia oculta leva ainda mais tempo. Eu tenho trabalhado nisso todos os dias nos últimos 15 anos.
Quão perto você está de algumas soluções?
Estou esperançoso, mas não quero ser irrealista. Estamos certamente melhor do que estávamos há 15 anos. Agora temos longas listas de genes associados ao autismo e temos esta nova ferramenta para estudá-los. Mas ainda precisamos entender como esses genes mutantes fazem com que as coisas dêem errado no cérebro para que possamos construir drogas eficazes.
Sua história começa na Romênia há 20 anos, quando você não sabia o que dizer aos pais de crianças com autismo. Se você voltasse para aquele país agora, o que diria?
Tudo o que posso dizer honestamente é que estou esperançoso. Ainda estamos longe de ter uma cura. Por outro lado, houve grandes avanços em outras doenças aparentemente insolúveis nos últimos anos. Isso me dá uma esperança tremenda.